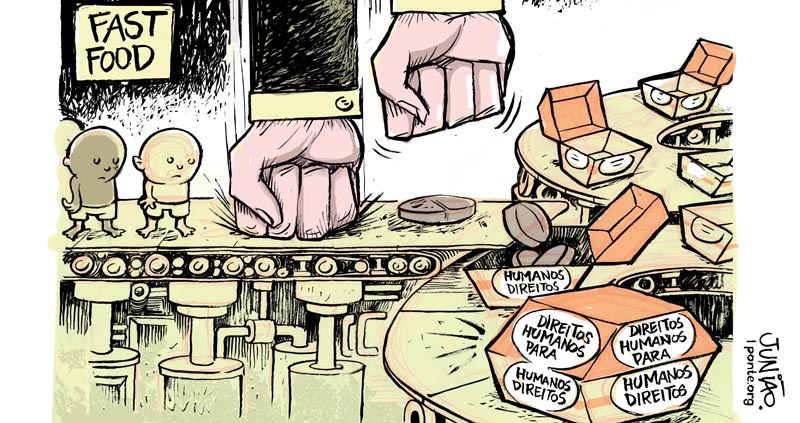Esse texto é uma tradução não oficial da obra de Michele Taruffo, feita para o curso de Mestrado em Políticas Públicas e Processo da FDC, em 2005-2007.
TARUFFO, Michele. Precedente e esempio nella decisione giudiziaria. In Rivista Trimestale de Diritto e Procedura Civile. Milano : Giuffrè Editore. 2004.
1. É geralmente pacificado o convencimento que o precedente judiciário não seja patrimônio exclusivo dos sistemas de common law, e que sim se trate de um fenômeno difuso e constante na maior parte dos ordenamentos, compreendidos aqueles da civil law. Este convencimento se torna óbvio só naquilo que se diga respeito à praxe das motivações nos vários ordenamentos. É de fato muito frequente a utilização de outras decisões sobre casos iguais ou similares, e o precedente tornou-se um tópico corriqueiro na argumentação direta para justificar a decisão judiciária.
O conhecimento deste importantíssimo fenômeno produziu também na Itália consequências de notável interesse. De um lado se submete a revisão da tradicional teoria das fontes, que exclui ou não compreende o precedente judiciário, para reconhecer realisticamente que a jurisprudência vem constantemente usada como fonte de direito. A propósito do precedente se falou de « fonte supletiva » em homenagem à prevalência da fonte legislativa, mas se é divulgada, de qualquer forma, a tendência a se estender o catálogo das fontes até compreenderem a jurisprudência. Por outro lado, teóricos do direito e juristas interessados em analisar a natureza e a estrutura da decisão judicial, e a entender quais são os fatores que influenciam a interpretação e a aplicação das normas no caso concreto, direcionaram uma atenção particular ao precedente judiciário. Nesta perspectiva se deve levar em consideração os temas clássicos da teoria do precedente, como a distinção entre ratio decidendi e obiter dictum ou as técnicas do overruling e do distinguishing. Voltou-se então a denunciar-se o desperdício que sobre a formação e evolução da jurisprudência produziu o uso e o abuso das máximas, e os problemas que derivam da incoerência e da variabilidade da jurisprudência, em particular daquela da Corte de Cassação.
Neste revival de um tema em muitos aspectos clássico, emergem pontos interessantes para ulteriores aprofundamentos dos problemas com nexo ao uso do precedente. Por um lado, a experiência que do precedente se faz em ordenamentos de civil law, e em contexto de praxes judiciárias de tudo diversas daqueles tipos do sistema anglo-americano, surgem problemas em parte novos. Assim por exemplo, se dedica particular atenção às mutações de jurisprudência, especialmente freqüentes na Cassação italiana, que representam um fenômeno mais complexo e substancialmente diferente do overruling das cortes anglo-americanas. Além disso, sobre a linha das análises teóricas da racionalização judiciária se tende a inserir o uso do precedente como contexto das argumentações racionais que justificam a decisão. Por outro lado, também a doutrina anglo-americana mais recente adota perspectivas mais destacadamente realísticas e coloca em evidência como as técnicas de uso do procedente, e sobretudo aquelas que os juízes de common law adotam para evitar o vínculo derivante da decisão anterior, influenciam sobre a discricionariedade do juiz que deveria seguir o precedente, ainda mais sobre o abstrato efeito vinculante do precedente em si considerado.
Em um panorama assim complexo e rico de problemas, emergem algumas analogias mas também algumas diferenças entre o emprego do precedente nos ordenamentos da commom law e da civil law. A principal analogia vem revisada entre o uso persuasivo ou de mero fato, típico do procedente nos sistemas de civil law, e o âmbito de discricionariedade que se reconhece ao juiz de commom law em relação ao emprego do precedente. Tende-se, de fato, a entender que o uso do precedente termine com o emprego de modalidades similares nos dois tipos de ordenamento, além do reconhecimento ou da exclusão da sua formal eficácia vinculante, porque isso depende sempre das escolhas do juiz que decide o caso sucessivo.
As diferenças permanecem todavia numerosas, e importantes, e dizem respeito aos diversos contextos processuais, judiciais e culturais. Entre estes uma diferença merece ser sublinhada, também porque vem bastante negligenciada. Esta diz respeito ao número de precedentes que entram em jogo nas referências em cada caso singular, ou – se assim se prefere – na distinção entre precedente e jurisprudência. A situação que parece mais frequente nos sistemas da commom law é aquela em que um ou poucos precedentes são referíveis ao caso que deve ser decidido. Não a caso a análise teórica do precedente prescinde normalmente da consideração do número dos possíveis precedentes, e refere-se à situação-tipo de um precedente somente. Entre as possíveis explicações disto é, sem dúvida, o fato de que nestes sistemas as cortes de apelação decidem poucos casos e pouquíssimos decidem ainda a Corte Suprema. A clara tendência destas últimas, que dispõem do poder discricionário de escolher os casos que entendem oportuno decidir sobre, é então própria no sentido de decidir os casos a respeito dos quais não pretendem modificar seu entendimento, assim reduzindo (teoricamente a somente um) o número de precedentes referíveis a cada caso singular.
Em vários sistemas da civil law, e a Itália é um exemplo por muitas vezes extremo, a situação é completamente diferente. As cortes de segundo grau decidem um número de casos muito maior, e o mesmo acontece com as cortes superiores. Potencialmente cada uma das muitas milhares de sentença que a Corte de Cassação pronuncia cada ano representa um precedente. As razões desta situação são muitas e não podem ser aqui discutidas; também numerosas são os inconvenientes que dela derivam. Permanece de qualquer forma o fato de que é bastante rara a situação em que um só precedente seja referível ao caso que deva ser decidido. A situação que aparece mais frequente, e que pode entender-se típica, e ao contrário aquela em que mais precedentes, da mesma corte ou de diversos órgãos judiciários com a Cassação no vértice, sejam referíveis àquele caso. Daí a tendência a não citar singulares precedentes, mas « a jurisprudência », melhor se « constante » e « conforme » constituída de longos elencos de sentença que repetem a mesma coisa. No âmbito desta situação se coloca então o caso, teoricamente anômalo mas de prática frequente, das contradições internas da jurisprudência. O caso limite, que não raramente se verifica, é aquele em que o mesmo juiz, que normalmente é a Corte de Cassação, diz coisas diversas sobre a mesma questão no mesmo momento.
2. Segundo a orientação tradicional o problema central (obviamente não o único) da teoria do precedente diz respeito à eficácia que a decisão de um caso pode manifestar sobre a decisão de um idêntico ou análogo caso sucessivo. Este problema vem normalmente resolvido afirmando-se que, nos sistemas de commom law, o precedente é dotado de eficácia juridicamente vinculante e por consequência o juiz tem que decidir o caso sucessivo aplicando a esse a ratio decidendi que resulta do precedente. As coisas acontecem diversamente nos sistemas da civil law, aonde o precedente não tem eficácia juridicamente vinculante. Se fala então de eficácia « persuasiva », « moral » ou « de mero fato » do precedente, para dizer que este vem usado como elemento de suporte na justificação da decisão, mas sem uma obrigação do juiz a seguir a ratio do precedente.
Esta distinção corresponde a um difundido lugar comum, mas suscita mais problemas do que os resolve. Por um lado, de fato, como já se acenou, a análise realística dos « modos de uso » do precedente por parte das cortes da commom law mostra como em realidade a eficácia vinculante destes seja uma fictio que cobre e legítima as escolhas largamente discricionárias computadas ao juiz que usa o precedente, e como isto ocorre também no mais rígido sistema inglês. No sistema norte-americano, então, o stare decisis é bastante elástico porque as cortes se reservam o poder de não seguirem o precedente, ao qual contudo não são formalmente vinculadas, todas as vezes em que se poderia levar a decisões injustas. De outro lado, os juízes americanos e a própria House of Lords inglesa não se reconhecem vinculados nem mesmo aos próprios precedentes. Por outro lado, acontece não raramente nos sistemas de civil law que um precedente termine por ter uma eficácia tal que seja considerado como vinculante.
Se então, como se foi acenado mais acima, as distinções traçadas por princípios supremos ou por grandes sistemas passa pela análise dos fenômenos concretos e da praxe judiciária nos vários ordenamentos, se descobre que o problema da eficácia do precedente é de grande monta mais complexo e variado de quanto resulta da distinção entre eficácia vinculante e eficácia persuasiva. Se pode, por exemplo, ressaltar que o número dos precedentes referíveis ao caso a se decidir influencia a eficácia que o precedente manifesta sobre a decisão sucessiva. O problema é complexo e não pode ser aqui aprofundado, mas vale a pena acenar alguns pontos exemplificativos. A existência de um só precedente referível ao caso poderia ser vista como um suporte fraco para uma decisão, de parte de um jurista continental habituado a manejar uma jurisprudência farta. Mas aquele precedente pode ser influente porque é o único suporte para a decisão sucessiva, como ocorre comumente no sistema da commom law. O jurista continental é ao contrário habituado a considerar muito eficaz, e não raramente quase vinculante, uma jurisprudência constante. É claro todavia que a eficácia de um precedente só, que seja só uma voz entre tantas de um elenco repetitivo, é bastante fraco: em uma jurisprudência conforme composta de centenas de sentenças, uma única sentença é irrelevante.
Um outro fator que incide sobre a eficácia do precedente é a sua idade. Este discurso não surpreende o jurista inglês, ao qual normalmente ocorre citar precedentes muito velhos, e deveria ser assim também para o jurista continental. Se trata, todavia, de um fator que pode operar de vários modos, e que é por demais ambíguo e impreciso. Pode ainda acontecer que um precedente recente seja mais eficaz porque reflete uma interpretação atualizada de uma regra de direito, mas também que este seja considerado pouco eficaz porque não ainda « consolidado ». Ao contrário, pode acontecer que um « velho » precedente venha entendido eficaz porque conferida autoridade a si, ou porque confirmado pela jurisprudência sucessiva, mas pode também acontecer que este seja considerado já ineficaz porque superado pelo tempo e pela evolução da cultura jurídica. Em cada caso permanece variável a segunda das circunstâncias, mas mesmo irrelevante, a incidência do tempo, transcorrido entre o precedente e o caso que deve ser decidido, sobre a eficácia do precedente.
São então várias razões pelas quais o problema da eficácia do precedente não pode resolver-se com base na distinção entre precedente vinculante e precedente não vinculante. Nos sistemas em que vige a regra do stare decisis não existe uma concessão unívoca, e menos ainda uma praxe uniforme, do vínculo que deriva do precedente. Nos sistemas em que o precedente não tem eficácia vinculante isso vem usado, todavia, e a sua persuasividade conhece graduações e manifestações diferentes em cada caso. Parece então razoável configurar a eficácia do precedente segundo uma escala composta por diferentes graus, que vai de um máximo teórico de vínculo absoluto sem exceções possíveis (obrigação, dever, must) até um mínimo representado pela hipótese em que o precedente não venha a ser usado, ou mesmo venha overruled. Entre estes dois extremos podem individuar-se vários graus intermediários de possíveis eficácia do precedente, que em concreto se realizam em funções dos vários fatores que influenciam o uso do precedente por parte do juiz. Se poderá assim pensar em um vínculo com exceções possíveis (must, except …), em um dever tendencial (should …), em um dever condicionado à falta de razões contrárias (should, unless …), ou em uma mera faculdade (may). Não se trata obviamente de situações rigidamente distintas, mas de graus que se podem individuar entre o continuum que compreende as diversas manifestações do fenômeno representado pela eficácia do precedente. Nesta perspectiva a distinção entre precedente vinculante e não vinculante torna-se raramente significativa. No entanto, se impõe o problema de definir melhor os graus em que se articula em concreto a eficácia do precedente.
3. No contexto das variações que dizem respeito às modalidades de emprego do precedente, vale à pena considerar a distinção que pode ser traçada entre precedente e exemplo.
Como se recordou mais acima, o precedente é definido e caracterizado pelo convencimento que a ratio decidendi sobre qual este se funda deva ser usada e aplicada como critério para a decisão de um caso sucessivo igual ou similar. A « obrigatoriedade » da aplicação deste critério pode ser mais ou menos intensa no segundo dos casos, essencialmente em função das exceções que se permitem, dos artifícios que os juízes usam para evitar o vínculo, e do grau de discricionariedade que se reconhece ao juiz do caso sucessivo. Em cada caso, e mais com diferentes graus de intensidade, parece que à base da própria idéia de precedente esteja presente um dever do segundo juiz de levá-lo em conta. Em quanto que, então, o precedente deve ser, deveria ser ou é desejável que seja seguido e usado como critério ou como ponto de referência para a decisão sucessiva. Podem então configurarem-se consequências nas hipóteses em que o juiz não tenha levado em conta o precedente: a sentença sucessiva poderia por exemplo considerar-se nula, ou injustificada, no segundo dos casos. De toda forma, o juiz deveria ao menos justificar expressamente a escolha de não seguir o precedente, enunciando as razões pelas quais entendeu não julgar sobre a base deste.
As hipóteses que apresentam estas características não exaurem, todavia, o panorama das situações nas quais a decisão de um caso vem a referência à decisão de um outro caso, acontecida em um momento anterior. Existem, de fato, numerosas situações nas quais a referência não diz respeito a um precedente que é obrigatório levar em consideração, mas um exemplo que se utiliza para explicar, esclarecer ou reforçar qualquer aspecto da decisão. Parece oportuna qualquer posterior observação entorno a isso que se entende por uso exemplificativo de chamar à decisão precedentes.
Não se pretende fazer referência às hipóteses em que a decisão de um outro caso venha citada como « exemplar », ou seja, como um modelo a seguir ou a limitar. Em uma situação deste gênero é sempre implícito (mas não raramente está explícito) um Sollen, ou seja, a idéia de que sejam razões pelas quais o exemplo deveria ser seguido na decisão sucessiva. Mas em tal caso, evidentemente, se está ainda entre a área conceitual do precedente em sentido próprio, caracterizado pela obrigatoriedade, mais do que naquela do exemplo.
Se tem, ao contrário, um exemplo em sentido próprio quando à decisão de um outro caso se chama aquela decisão, enquanto esta seria apenas uma ilustração concreta, um caso particular, uma aplicação específica de qualquer coisa. Porque aqui se fala de decisões judiciais, esta « coisa qualquer » é normalmente uma regra, um princípio ou standard jurídico, cujo significado e cujos efeitos venham mostrados e especificados com referência a um caso particular em cuja regra esteja concretizada. Por assim dizer, se trata de um token ao invés de um type, de um instance ao invés de um example. Quando se usa um exemplo deste modo, o objetivo não é (ou ainda não é) de dizer ou de fazer entender que esse deveria ser seguido. Se poderia dizer no entanto que a finalidade do exemplo é ostensiva: se reclama o fato de que um caso específico foi decidido de um certo modo aplicando um determinado critério de decisão, porque, por assim dizer, parece útil saber que isso aconteceu.
A conexão que subsiste entre a decisão citada como exemplo e o caso sucessivo em que esta vem chamada não é prescritiva enquanto falte o convencimento, ou a sugestão, que o exemplo deva ser seguido. Trata-se no entanto de uma relação que poderia definir-se de relevância, de pertinênica ou de utilidade do exemplo que se utiliza na decisão sucessiva. O exemplo é relevante ou pertinente quando se trata de um caso particular de aplicação da mesma norma que vem (ou poderia ser) aplicada no caso sucessivo, e é útil enquanto representa ou exprime um possível significado ou uma possível aplicação daquela normal. Assim, por exemplo, isso pode servir para ilustrar a pluralidade de fattispecie concretas reconduzíveis à mesma norma e então a individuarem-se em possíveis significados ou a mostrarem como esta seja ambígua, ou como seja interpretada de modos diversos em diversos momentos ou por juízes diversos.
4. Delineada em termos muito gerais a distinção entre precedente e exemplo, trata-se agora de considerar algumas posteriores articulações.
a) Um caráter que pode entender-se típico do exemplo, e que serve para diferenciá-lo do precedente, constitui-se da sua maior amplitude. Em substância, podem ser usados como exemplos muitas decisões que não poderiam ser propriamente usadas como precedentes. O denotatum de « exemplo » é de fato mais extenso do que aquele de « precedente » e compreende este último, como agora se tentará esclarecer.
Normalmente uma decisão pode representar um precedente para a decisão de um caso sucessivo quando provém de um juiz superior (precedente dito vertical), de um juiz de grau igual (precedente dito horizontal) ou do mesmo juiz (dito auto-precedente). Todavia o precedente não imprime a sua eficácia toda vez que se verifica uma destas situações, porque tal eficácia é, por regra, subordinada a verificar-se por condições posteriores, como por exemplo o fato de que um juiz aceite ser vinculado por um precedente próprio ou pelo precedente de outro juiz de nível igual, e entenda ainda válido o precedente de um juiz superior.
São, por outro lado, numerosas as situações em que uma decisão não seja idônea a constituir um precedente em sentido próprio, mas pode ser ao invés disso usada como exemplo. Antes de tudo, são apontadas as situações em que um precedente vertical, horizontal ou um auto-precedente não venha usado como precedente vinculante porque lhes falte qualquer condição posterior ou porque o juiz dele discorde. Além disso, existem situações em que uma decisão não poderia nunca constituir um precedente, mas é útil e pertinente como exemplo. Pode-se pensar, por exemplo, em decisões de juízes superiores mas não hierarquicamente supraordinados (como a Corte constitucional em respeito ao juiz ordinário), ou de juízes de nível igual ou superior mas não pertencentes à mesma jurisdição (como os juízes estrangeiros ou os juízes especiais administrativos). Pode, além disso, tratar-se de decisões de juízes inferiores (como quando a Cassação se refere a sentenças de juízes de mérito, ou uma Corte de apelação a uma decisão de primeiro grau).
Um aspecto posterior sob o qual a área de emprego do exemplo é mais ampla daquela do precedente que diz respeito à relação entre o caso reclamado e o caso que vem sucessivamente decidido. É sabido que o emprego do precedente se funda sobre a identidade ou ao menos sobre a analogia entre duas fattispecie, porque o fundamento do precedente está em aplicar o mesmo critério de decisão a casos iguais ou similares. É obviamente possível usar como exemplo a decisão sobre um caso igual ou similar, sempre em virtude do fato que a distinção entre precedente e exemplo verte essencialmente, neste caso, sobre o modo que em concreto o juiz sucessivo se serve da decisão anterior. É todavia possível usar como exemplo, mas não como precedente, também uma decisão que verse sobre uma fattispecie diversa daquela que vem decidida. Como se vê, de fato, aquilo que justifica o uso do exemplo é a sua relevância ou utilidade para o caso sucessivo: mas um exemplo pode ser util também quando diz respeito a uma outra fattispecie, não idêntica ou nem mesmo similar, se por exemplo para ilustrar a amplitude ou incerteza do significado de uma norma.
Existe, então, um terceiro aspecto sob o qual o exemplo parece um fenômeno mais amplo que o precedente. Esse deriva do fato que, por definição, o precedente vem invocado em sentido positivo com referência ao caso a se decidir. Isso vem de fato usado como meio para individualizar a ratio decidendi que parece destinada a valer também para a decisão sucessiva. Um chamado em negativo, ou seja, feito com o objetivo de excluir que aquela ratio decidendi possa valer no caso sucessivo, não configura o emprego do precedente. O segundo dos casos poderá tratar-se de uma hipótese de distinguishing (quando o vínculo do precedente vem evitado dizendo que o caso sucessivo é diferente) ou di overulling (quando o precedente vem anulado ou superado), mas certamente não existe um uso negativo do precedente. Ao contrário, nada impede que uma decisão anterior venha chamada como exemplo negativo, ou seja como possibilidade de interpretação ou aplicação de uma norma que existe, mas que seria evitada.
b) Um segundo caráter da distinção entre precedente e exemplo já foi delineado mais acima, mas vem aqui recolocado para definir mais especificamente uma peculiaridade do exemplo. Enquanto, como se viu, está implícito na idéia fundamental de precedente qualquer elemento de obrigatoriedade, pela qual o juiz deve seguir o precedente ao menos enquanto não demonstre ter boas razões para não fazê-lo, não é nula totalmente quando uma decisão vem chamada a título de exemplo. Isso equivale dizer que o uso do exemplo é completamente discricionário. Não se trata nem mesmo de discricionariedade de qualquer modo regulada ou vinculada, porque não parecem existir critérios – nem mesmo de máxima – que possam referir-se ao uso de exemplos. Ao mais, poderá se dizer que é oportuno indicar exemplos específicos e concretos quando se afirma que uma norma foi ou pode ser aplicada de um certo modo, mas isso é uma sugestão para que a argumentação seja tida como completa e acreditável, ou seja, uma regra de mera oportunidade que não limita e não condiciona diretamente a discricionariedade do juiz. Na realidade, o juiz que não cita exemplos será considerado – no segundo caso – dogmático, abstrato ou pouco informado; quem ao contrário cita muitos será considerado muito culto e pedante. Tratam-se, porém, somente de variáveis no interior de um comportamento plenamente discricionário, que produzem efeitos de alguns relevos só no estilo da sentença.
c) Um outro caráter que pode entender-se típico do exemplo atém-se à sua função. Como é evidente, a principal função do precedente é preceptiva: o precedente exprime a regula iuris que deve ou deveria ser aplicada para decidir o caso sucessivo; o juiz que decide seguindo o precedente reconhece come válida e eficaz aquela regra, e então a aplica como critério de decisão. A função do exemplo é, ao contrário, evidentemente diferente: não é preceptiva, e é, invés disso, prevalentemente eurística e ilustrativa; além disso essa é também moderadamente justificadora. A função do exemplo é eurística e ilustrativa porque, como se foi repetitivamente acenado, o exemplo serve para fazer compreender, para explicar, para descobrir os possíveis significados e as possíveis aplicações de uma norma, ou também para individualizar os casos-limite em que essa se revela ambígua ou incerta. Deste ponto de visa, o exemplo é um instrumento de interpretação e de controle da interpretação. Isso ajuda a estabelecer, para casos particulares ao invés que para definições gerais (se assim se quer: em perspectiva ideográfica ao invés de nomotetica), o significado de uma norma.
Por razões substancialmente similares o exemplo tem também uma função justificadora, em geral, e um particular quando é citado na motivação de uma sentença. O exemplo usado em positivo serve como elemento de suporte para mostrar que uma interpretação de uma norma é justa, oportuna, vantajosa e compreensível; no exemplo usado em negativo serve para fazer ver que uma interpretação é injusta, inoportuna, danosa e incompreensível. O exemplo relativo a um caso similar fornecerá uma justificação mais forte, enquanto o exemplo relativo a uma fattispecie diferente fornece uma justificativa mais fraca mas é útil para mostrar a amplitude do significado de uma norma. O exemplo constituído pela decisão de um juiz autoritário e mais persuasivo do que aquele representado pela decisão de um juiz pouco autoritário. Permanece de toda forma o fato de que uma justificativa fundada sobre um ou mais exemplos não seja nunca demonstrativa ou cogente. Além do mais, essa tem os caracteres do argumento tópico, da justificativa em sentido lato indutiva, e então tem uma função justificadora « fraca ». Isso não impede obviamente que esta seja usada muito constantemente e tenha um rol relevante na praxe das argumentações judiciais.
A propósito da distinção entre precedente e exemplo um posterior esclarecimento parece oportuno com referência ao argumento por analogia. Não se discute, na verdade, que a analogia entre o caso decidido pelo precedente e o caso em que o precedente vem aplicado representa a base fundamental do stare decisis e então da eficácia típica do precedente. Desta vez sublinha-se que a analogia é um raciocínio « por exemplo ». Tratam-se de variações terminológicas que não influenciam sobre a validade da distinção em exame. O raciocínio por analogia no sentido próprio está de fato na base do precedente enquanto serve para justificar que a decisão do caso sucessivo siga a mesma ratio da decisão sobre o caso precedente: isso constitui então a justificativa da função preceptiva do precedente. O uso de exemplos não se funda, ao contrário, em um verdadeiro e próprio raciocínio per analogia, e não é finalizado para produzir conclusões preceptivas acerca da decisão do caso sucessivo. Ao contrário, como de disse, esse é ostensivo e ilustrativo, e então desenvolve só indiretamente uma função justificadora no contexto da decisão.
d) Em tempos recentes, a análise teórica do raciocínio jurídico e judicial juntou-se para individualizar e colocar em primeiro plano, entre os caracteres típiocos do precedente em sentido próprio, a sua universalidade. Isso equivale dizer que o precedente opera como tal enquanto desse possa retirar-se uma regra de caráter tendencialmente geral, enquanto tal aplicável a todos os outros casos idênticos ou análogos. A este caráter se conectam em verdade os valores de uniformidade e igualdade de tratamento que encontram atuação no emprego do precedente.
Por outro lado, aplicar um precedente significa em realidade aplicar a norma que a esse fora aplicada,
de maneira que inevitavelmente se move do precedente para efetuar a extensão para outros casos. Não ao acaso se afirma que quem quer discordar-se do precedente tem o ônus de justificar sua escolha, porque esta vai contra a generalidade potencial da norma que o precedente exprime. O requisito da universabilidade foi entendido como condição de coerência referível sobretudo ao auto-precedente, mas a opinião prevalente é no sentido de que este vague no geral, ou seja, todas as vezes que um precedente de qualquer natureza venha aplicado. Por outro lado, próprio no princípio da universalidade vem revisada a razão fundamental pela qual o precedente deve ser seguido.
Sob este perfil emerge uma outra importante diferença entre precedente e exemplo. O exemplo, de fato, não é e não deve ser necessariamente passível de universalização. Poder-se-ia antes dizer que o princípio de universabilidade não se aplica nem mesmo ao exemplo, porque esse é heterogêneo e não lhe colhe – nem mesmo em negativo – um caráter relevante. O exemplo é eficaz por si só, porque é um caso particular de qualquer coisa, porque ilustra e representa uma situação específica. Naturalmente, como se já ponderou, o exemplo é exemplo de qualquer coisa, e especificamente da aplicação de uma norma. Contudo a sua função é somente de mostrar que a norma foi aplicada naquela situação de um certo modo e com um determinado êxito, não de prescrever a aplicação daquela norma em outras situações. Existe então, no exemplo, uma relação entre o caso particular decidido e a norma que influenciou a decisão; caso contrário o exemplo não teria nenhuma utilidade (e não seria nem mesmo um exemplo que algo). Enquanto porém no precedente o caso particular vem usado para trazer uma regra potencialmente geral (ou seja, passível de universalização) e por esta razão aplicável também ao caso sucessivo, isso não acontece no exemplo. Desta vez, antes, no exemplo se realiza a operação inversa: parte-se da regra que se queria aplicar no caso sucessivo e encontra-se então no exemplo um caso particular em que esta manifesta um aspecto relevante do seu significado. Desta vez a regra não é ainda conhecida ou formulada, e então o exemplo pode servi como indício para descobrir-lhe a existência; se mais exemplos são de acordo, então torna-se mais provável a hipótese que a regra exista. Mas em nenhuma destas situações se pode dizer que o exemplo tenha por si só a capacidade de impor ou render necessária a aplicação da regra a qual representa em um caso particular.
Parece, por outro lado evidente, que a universalidade do precedente seja intrinsecamente conexa à sua função preceptiva ou normativa, ou seja, ao fato de que este fornece um critério que deve ser seguido no caso sucessivo. Se esta função está ausente, como acontece no caso do exemplo, perde relevância também o requisito da eventual universalidade.
5. A distinção entre precedente e exemplo poderia considerar-se privada de significado se vista do interior de uma teoria rigorosa do precedente. Uma teoria assim feita, exatamente porque rigorosa, deveria de fato ignorar a priori tudo aquilo que não apresenta o caráter típico do precedente em sentido estrito. Para tal teoria o fenômeno de decisão citada a título de exemplo deveria ser irrelevante. Seria normalmente oportuno não considerar como precedente todas as decisões citadas em sentenças sucessivas, porque de tal modo se arriscaria atribuir eficácia normativa ou preceptiva à citação que não possuísse tal efeito.
Se então se coloca, ao invés de no interior de uma teoria rigorosa do precedente, sobre o plano dela teoria da argumentação jurídica ou da decisão judiciária e da sua justificação, então a distinção entre precedente e exemplo assume importância maior. Como se tentou esclarecer, de fato, o exemplo se desenvolve – no contexto da argumentação com a qual estabelece o significado de uma norma – uma função própria e típica. Isso serve para colocar em evidência um aspecto do significado da norma que já se concretizou em um caso específico: do qual a sua função eurística e indiretamente justificativa, que encontra largo espaço e notável importância na argumentação judicial.
Isso resulta evidente se se observa a praxe de tal argumentação. O rol do exemplo pode ser menos visível nas motivações das sentenças dos juízes de common law, porque nesta o dado absolutamente prevalecente é a referência aos precedentes em sentido estrito. Poder-se-ia realmente presumir que se uma decisão vem citada por um juiz inglês ou norte-americano, essa representa um precedente ao qual se reconhece alguma eficácia preceptiva. Isso não vale, no entanto, ou não vale nos mesmos termos, para as sentenças dos juízes da civil law. Seria de fato errôneo presumir que cada decisão citada em uma sentença constitua um precedente em sentido estrito. Existe em verdade uma difundida tendência a citar muitas decisões (algumas vezes em dúzias, não em raros casos), sem nem mesmo estabelecer-se se elas possuem qualquer eficácia de precedente para o caso no qual venham citadas. É comumente evidente que elas seja privadas desta eficácia, e então que venham citadas a fim meramente exemplificativo (quando não somente ad pompam). Não raramente, por outro lado, as decisões citadas não tem nem mesmo efetiva pertinência com a fattispecie do caso em que venham citadas (sem contar que às vezes isso não exista, ou não dizem aquilo que desejam dizer).
De fronte à praxe judiciária assim descontrolada, variável, desordenada e não raramente pouco útil, parece claro que não se possa falar propriamente de precedente toda vez que um juiz se remete a qualquer outra decisão. Ao contrário, o juiz compila operações significativas, e usa argumentos com finalidade justificativa, também quando não emprega precedentes no sentido estrito e rigoroso do termo. Constantemente, antes, estes argumentos representam a efetiva justificativa da decisão. Deste ponto de vista parece confirmada a hipótese enunciada anteriormente, segundo a qual a distinção entre eficácia vinculante e não vinculante do precedente não consegue dar conta de muitas características relevantes da justificativa fundada na citação de decisões precedentes. A distinção entre precedente e exemplo parece ao contrário idônea a colher algumas destas características, delineando-se a função no contexto da decisão judicial.